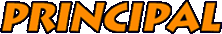|
A Teoria do Caos tem influenciado os mais diversos campos do conhecimento. Na área da comunicação, essa teoria tem sido usada para descrever filmes, programas televisivos e até histórias em quadrinhos que apresentam características caóticas. Um exemplo recente é o filme Cidade de Deus. Nele, podemos encontrar todas as características da comunicação caótica: fatos fragmentados, muita informação em pouco tempo, padrões estéticos complexos, dependência sensível das condições iniciais, padrões mais complexos à medida em que nos aprofundamos nos fenômenos e na vida dos personagens… o aumento da capacidade de captar informação faz com que surjam cada vez mais obras caóticas, tais como “Cidade de Deus”, Matrix e, nos quadrinhos, Watchmen.
IVAN CARLO, Internet
No meio literário costuma-se dizer, discutivelmente, que o épico Ulisses de James Joyce é o romance definitivo, o mais complexo e experimental de todos, o “romance para acabar com todos os romances”; diz-se que nestes termos – originalidade, complexidade e experimentalismo – não se pode esperar nada superior.
Do meu ponto de vista, Watchmen é o “Ulisses” das HQs. Em se tratando de experimentalismo, complexidade e acima de tudo originalidade, nada o supera (exceto, nos dois primeiros termos, a graphic novel Big Numbers do próprio Moore, mas apenas na concepção, já que este épico em quadrinhos não pôde ser completado graças à incapacidade de Bill Sienkwicz de produzir sua arte de grande qualidade em grande quantidade… E eis um interessante paralelismo para quem conhece a obra de Joyce: se “Watchmen” é o “Ulisses” de Moore, então seu incompleto “Big Numbers” seria seu Finnegan´s Wake.)
Escrita por Alan Moore e desenhada por Dave Gibbons, “Watchmen” (1985-1986, DC Comics), ao lado de Batman: O Cavaleiro das Trevas (mesmo período, mesma editora), redefiniu os quadrinhos, inaugurando uma nova era onde, mais do que a popularização de uma visão obscura, até mesmo niilista, do gênero e a pululação de anti-heróis, se destacou a promoção dos quadrinhos a uma mídia passível de conteúdo sério e adulto.
Por suas óbvias qualidades, “Watchmen” mereceu muita atenção (menos do que “O Cavaleiro das Trevas”) e muito respeito (mais do que “O Cavaleiro das Trevas”), especialmente fora da indústria; como exemplo cabal, veja-se que ganhou um prêmio Hugo e tornou-se objeto de estudo sério no meio acadêmico (recomendo ao leitor interessado a tese de Samuel Asher Effron, Taking Off the Mask: Invocation of the Superhero Comic in Moore and Gibbon’s Watchmen, disponível, ao que eu saiba somente em inglês, na Rede, tese esta da qual extraio muitas informações, especialmente a análise da complexa simetria empregada na construção do capítulo V da série).
Este artigo pretende ser uma análise parcial de “Watchmen”, já que uma análise completa está além até mesmo do próprio autor (como Moore admite em entrevista); essa análise se estende desde a concepção da obra — sua origem como história policial estrelando os personagens da Charlton Comics, tendo como objetivos desconstruir, ironizar e homenagear o gênero dos super-heróis e expandir os quadrinhos como mídia e forma de arte – até uma dissecação profunda de sua estrutura simultaneamente simétrica e caótica, alicerçada na fascinação de Moore pela Teoria do Caos (para atiçar a curiosidade do leitor: como explicarei adiante numa elucidação breve da Teoria do Caos e de sua implicação na história, a descoberta acidental que Edward Blake – o Comediante – faz dos planos de Adrian Veidt – vulgo Ozymandias – antes mesmo do início da história, serve como o “efeito borboleta”, ou dependência sensível das condições iniciais, da narrativa: um incidente aleatório e aparentemente insignificante que gera mudanças imprevisíveis – ou seja: caos – nos acontecimentos posteriores, especialmente no meticulosamente calculado plano de Adrian Veidt).Comecemos pelo nascimento de Watchmen.
:: NO PRINCÍPIO ERA O CAOS…
“(…) havia uma afeição nostálgica pelos super-heróis em geral. Isso permeia “Watchmen”. Não importa o quão sombria e cruel a história seja, as próprias HQs estão nostalgicamente refletidas nela. (…) Eu penso que sempre fui muito afeiçoado aos super-heróis. Eu sei que tenho uma reputação por fazer coisas horríveis a eles, mas só por que você faz coisas horríveis a alguém não significa que você não goste dessa pessoa.”
ALAN MOORE, em entrevista para a revista Wizard
Poucas acusações se tem feito com maior freqüência do que a de que Alan Moore promoveu o genocídio dos super-heróis em “Watchmen”. O acusado parece se defender, com ironia acidental, na epígrafe desta seção: se o fez, fê-lo por amor. Acredito que Moore realmente seja culpado, e em dois níveis. Primeiro: os heróis, na forma do vigilantismo, realmente chegaram a um fim no mundo de Watchmen. Segundo e mais importante: como eu propus acima e agora amplio e reafirmo, Watchmen é e para sempre será a maior das HQs de super-heróis, talvez de qualquer gênero; teria delineado, assim, os limites do possível; só se podem produzir, agora, obras menores.
Seja como for, de fato Watchmen surgiu dessa “afeição nostálgica” aferida por Moore em conjunção com uma necessidade de originalidade. A idéia original de Watchmen era a de uma história policial envolvendo os antigos personagens da Charlton Comics, na época recém adquiridos pela DC; por problemas de continuidade (esses personagens tinham seu próprio universo dentro do “multiverso” DC, chamado Earth-C, de Charlton, e além disso fariam parte da série Crise nas Infinitas Terras) Moore foi forçado a utilizar esses personagens como modelos para as suas próprias criações. Eis então que surge Ozymandias, baseado no personagem Peter Cannon Thunderbolt, também viajado e treinado em terras do oriente; o Comediante, baseado no personagem Peacemaker, um agente do governo, curiosamente, como o nome sugere, pacifista; Rorschach – nome derivado do inventor do teste de pranchas empregado em psicoterapias, as figuras dessas pranchas sendo a fonte do desenho cambiante na máscara desse personagem -, baseado no personagem Question; Holis Mason, o NiteOwl original, com sua origem no personagem Blue Beetle, o protótipo do policial tornado vigilante; Dan Dreiberg, o segundo Nite Owl, baseado no segundo Blue Beetle; Laurie, a Miss Jupter, baseada na personagem Nightshade; e finalmente o Dr. Manhattan, baseado no personagem Capitão Átomo, com resquícios do Superhomem (essa relação com o homem de aço se mostra em vários níveis, em especial na semelhança da ligação do Dr. Manhattan com o governo dos EUA e a mesma ligação do super com o governo em “O Cavaleiro das Trevas”).
A partir desse elenco e da liberdade dada pelos editores da DC ao time criativo, Moore e Dave Gibbons – este não um mero artista contratado, também amigo de Moore e co-criador da série – passam a tecer com delicadeza, originalidade, inteligência e muita energia uma trama fantástica, alicerçada, como tudo o mais no que diz respeito à série, num conceito estereotipado do gênero dos quadrinhos de super-heróis: a despeito da complexidade e da inversão de papéis e valores na história, esta em si é básica: os heróis, até mesmo o “anti-herói” Ozymandias, querem apenas, como todo super-herói que se preze, salvar o mundo (mais a respeito dessa inversão de valores adiante no tópico “Desconstrução Final: Uma História sem Vilões”).
:: SIMETRIA TEMEROSA
Passo agora a uma análise estrutural da narrativa.
Em primeiro lugar, a trama principal. Embora, como observei acima, ela esteja fundada propositadamente no maior clichê do gênero – os heróis devem salvar o mundo – ganha nova dinâmica, originalidade e complexidade quando trabalhada no raciocínio caótico de Alan Moore. Em primeiro lugar, o verdadeiro motivo da história só se faz evidente a partir do momento em que se vai descortinando o plano de Adrian Veidt (lá pela página 19 do capítulo XI); até então se tem a sensação de que há algo inusitado nos bastidores da narrativa, mas não se sabe o quê; até então, a história não passa, em termos de trama ou enredo, de um mistério bem elaborado dentro do universo dos super-heróis. Em segundo lugar, uma nova dinâmica e um novo nível de complexidade se emprestam à trama lugar-comum com sua apresentação não linear: embora esteja soberbamente bem distribuída em 12 capítulos, com início, meio e fim bem definidos, o emprego maciço de flashbacks, textos suplementares (no final de cada capítulo) e capítulos digressivos (o capítulo IV não adianta a trama, conta somente a história do Dr. Manhattan, da mesma forma o capítulo VI, que conta a história de Rorschach) apresentam-se como obstáculos ao andamento da trama principal, embora cumpram uma série de serviços a essa mesma trama, aprofundando a caracterização, estabelecendo solidamente o pano de fundo e enriquecendo com detalhes o mundo ficcional (quanto à tradicional seqüência da narrativa em forma de dedução – início, meio e fim – pode-se dizer do primeiro capítulo um belo exemplo do ideal mainstrean de estrutura: apresenta os personagens principais e suas relações com maestria – Rorschach “tem” que visitar cada um dos vigilantes sobreviventes para alertá-los do perigo representado pelo seu suposto assassino de vigilantes – e estabelece logo nas primeiras páginas a ilusória necessidade dramática: há um assassino e Rorschach está decidido a encontrá-lo). Como já foi observado, não só os temas abordados no decorrer da história, mas também e principalmente sua própria estrutura, baseiam-se em conceitos da Física moderna, em especial o conceito de simetria e aspectos da Teoria do Caos. Essas idéias foram muito influentes na formação de Alan Moore como pensador e decerto moldaram não só sua visão de mundo como seus ideais de narrativa.
,br>Simetria pode ser sumariamente definida como a medida de semelhança e correspodência de formas (e outras grandezas) entre partes opostas de um objeto ou sistema. De fato o universo é composto de simetrias. O rosto do ser humano (como seu cérebro e seu corpo) é regido pela chamada simetria bilateral; se dividido no meio por uma linha vertical, teremos dois hemisférios que se pode comparar e cuja semelhança de formas é, realmente, um dos princípios da noção de beleza. Estrelas do mar, por outro lado, são regidas por uma simetria pentagonal, pois são compostas por cinco partes aproximadamente simétricas.
Pois bem: Watchmen foi composta segundo algumas simetrias; elas estão presentes em especial nos layouts de página. Note, por exemplo, na página dois do primeiro capítulo, como os três painéis que mostram o assassinato de Edward Blake, pintados em tons de vermelho, formam um triângulo: e como, na página seguinte, o mesmo efeito se repete.
Em termos de layout, a simetria mais comum em toda a série tem a forma de X; ela ocorre na maior parte das páginas contendo nove painéis de mesmo formato e tamanho; a primeira página a demonstrar esse desenho é a página um do capítulo II; segue-se a página dois, 22 e 23. Outro exemplo de simetria empregada no layout de página ocorre nas páginas seis e sete do capítulo III: a entrevista de Janey Slater, primeira esposa do Dr. Manhattan, transcorre em três painéis colocados à esquerda da página, enquanto à direita outros três painéis desenvolvem outro foco narrativo (essa mesma estrutura foi empregada por Moore, com grande efeito, nas páginas 29 e 30 de A Piada Mortal). Um último exemplo encontra-se nas páginas 7, 8, 12, 21 e 22 do capítulo V; nestas páginas a cena do primeiro painel sempre reflete, às vezes de forma óbvia, às vezes não, a cena do último (mais a esse respeito adiante).
Outra simetria empregada largamente por toda a história ocorre na repetição de um objeto no início e no fim de cada capítulo e no início e fim da história (com exceção feita aos capítulos X, XI e XII), objeto cuja imagem em geral evoca o tema do capítulo. No capítulo I a própria capa serve de primeiro painel, com o primeiro painel da primeira página servindo de segundo na seqüência de distanciamento (zoom-out) que a “câmera” perfaz do objeto focalizado, neste caso o broche ensangüentado de Edward Blake; note como outro zoom out desse mesmo objeto fecha o capítulo e note ainda como a última página da história, capítulo XII, termina com um zoom in (aproximação) da mesma smile face do broche, desta vez como um desenho na camisa de Seymour e apresentando uma mancha de ketchup no lugar de sangue (esta simetria pode querer simbolizar a natureza cíclica dos processos da História, isto é, como a publicação do diário de Rorschach pode desmascarar o plano de Adrian Veidt e mergulhar novamente o mundo na Guerra Fria… mas isto já é especulação, embora eu particularmente a julgue bastante provável dada a formação científica-filosófica de Alan Moore). No capítulo II temos outro zoom out, desta vez de uma estátua de anjo num cemitério, estátua que reaparece no último painel da última página, onde vemos Rorschach caminhando para a saída do cemitério. O capítulo III inicia com um zoom out de uma placa com o símbolo de perigo radioativo, e na última página temos esse mesmo símbolo no segundo painel. O capítulo IV principia com a foto de Jon e Janey (os dois nomes iniciando com J pode se tratar de outra simetria, assim como o nome do jornaleiro e do rapaz que lê a revista Tales of the Black Freighter é o mesmo, Bernard), e na última página desse capítulo temos a mesma foto no terceiro painel. O capítulo V inicia com um zoom out do reflexo do letreiro do bar RumRunner numa poça de água, o último painel da última página mostra essa mesma imagem. O capítulo VI inicia com um zoom out de uma prancha de Rorschach e termina com um zoom in da mesma prancha. O capítulo VII inicia com um zoom out da Owl Ship refletida nas lentes do óculos do uniforme de Dan Dreiberg e termina com um zoom out do mesmo objeto. O capítulo VIII principia com um zoom out da estátua de Hollis Mason como Nite Owl e termina com Mason sendo assassinado a golpes desferidos com essa estátua (o último painel da última página mostra a estátua caída coberta de sangue). O capítulo IX inicia com um zoom out de um frasco de perfume da linha Nostalgia de Adrian Veidt, o clímax do capítulo se dá quando Laurie efetivamente arremessa esse frasco contra o forte de vidro do Dr. Manhattan, quebrando-o… Como se pode ver, a técnica cinematográfica de zoom serve de padrão para os inícios e finais da maior parte dos capítulos, e isso não ocorre à toa, como explicarei adiante no tópico Técnicas de Narrativa.
No entanto o maior exemplo de simetria ocorre realmente no capítulo V. O título – Fearful Symmetry (ignoro como traduziram, trata-se de algo como “Simetria Temerosa”) – diz tudo. Esse capítulo foi exaustivamente analisado por Samuel Asher Effron em sua tese, mencionada na introdução; como não há nada que eu possa acrescentar a esse trabalho, transcrevo-o abaixo traduzido e resumido:
“A apresentação visual e a temática de reflexos especulares permeia cada elemento do capítulo [V], especialmente o layout. Desde o começo, os painéis apresentam uma miríade de imagens simétricas que incluem objetos, personagens e designs duplicados, refletidos ou repetidos. O primeiro exemplo apresenta-se na capa do capítulo V, no logotipo do RumRunner, um bar localizado próximo ao apartamento de Moloch. A imagem é evocada mais tarde no capítulo de duas formas. Em primeiro lugar, o R duplo de RumRunner é substituído pelo R duplo de Rorschach; em segundo lugar, a formação de caveira e ossos cruzados do logotipo aparece em sua encarnação literal, a bandeira de Jolly Rogers das histórias de piratas, e sobre um pôster de rock. No caso deste último, um nível adicional de significado é adicionado. O pôster é um artefato do mundo real divulgando um álbum do Grateful Dead intitulado “Aoxomoxoa”. Não só o próprio título é um palíndromo, o que dá maior apoio ao tema da reflexão, como a arte do pôster pertence ao falecido Rick Griffin; este designer de São Francisco era conhecido por suas criações perfeitamente simétricas. Moore e Gibbons admitem estar sendo “explicitamente astutos”, o que se mostra no decorrer do capítulo. Por exemplo, uma pasta contendo o arquivo de homicídio de Blake contém a numeração “801108” — uma seqüência numérica que é tanto verticalmente quanto horizontalmente simétrica. Outros exemplos de autoreflexão relacionam-se principalmente com itens ligados a Rorschach. A importância da mancha de ketchup formada pelo ponto de interrogação já foi discutido [nota minha: Rorschach foi baseado no personagem da Charlton Comics chamado Question, ou Questão], e a mancha sobre um prato, no primeiro painel da mesma página [página 11], é uma referência óbvia à máscara desse personagem.
(…)
Quando todos esses diferentes métodos de reflexão são examinados à distância, um interessante padrão começa a emergir. Embora Gibbons empregue um sem número de variantes, ele aplica determinada técnica a cenas ou a grupos de cenas com exclusividade. Por exemplo, imagens refletidas em espelhos são encontradas somente nas páginas que incluem a interação entre Dan e Laurie, enquanto que a simetria entre o primeiro e último painel de uma página pode somente ser observada nas páginas envolvendo ou o jornaleiro ou os investigadores. À princípio o padrão parece aleatório e coincidente mas o centro do capítulo lança luz sobre o mistério. O layout das páginas centrais mostra a tentativa de assassinato de Adrian Veidt de uma forma única em toda a série. Em nenhuma outra parte Gibbons contém sua ação dentro de três painéis horizontais e um painel vertical como aparece nas páginas 14 e 15. É imediatamente evidente que as páginas refletem diretamente uma à outra. O efeito em si mesmo é revolucionário, mas Gibbons o leva muito além. Uma inspeção do capítulo como um todo revela que esses painéis centrais funcionam meramente como âncora; o layout da primeira metade do capítulo é completamente simétrico em relação ao da segunda. Da mesma forma como os painéis das páginas 14 e 15 duplicam uns aos outros, assim o fazem os painéis das páginas 13 e 16, 12 e 17, etc., até a primeira e última página do capítulo. Em adição ao paralelismo estrutural, os assuntos das páginas simetricamente opostas são idênticos; isto é verdadeiro para cada personagem retratado. Por exemplo, as duas cenas envolvendo os investigadores aparecem à mesma distância das páginas centrais e possuem o mesmo layout. De maneira mais sofisticada, Gibbons duplica a ação de seus temas nos lados opostos do capítulo. Os dois casos mais evidentes envolvem Rorschach. Na primeira cena, ele deixa [itálico meu] o apartamento de Moloch. Seu movimento inicia no quarto painel da página seis. O painel simétrico da página oposta, página 23, mostra Rorschach entrando [idem] no apartamento de Moloch mais tarde naquela noite. A segunda aplicação dessa técnica é ainda mais sofisticada. A primeira cena do capítulo mostra um Moloch assustado reagindo a uma som suspeito. Começando em seu quarto, ele vagarosamente desce as escadas na direção da cozinha onde confronta Rorschach. Nas páginas opostas, Rorschach confronta um Moloch assassinado e subseqüentemente reverte o caminho deste em direção ao quarto onde eventualmente é encurralado pela polícia.
O capítulo V é altamente complexo tanto em estrutura quanto em conteúdo, como fica evidente pelos exemplos citados. Por meio de sua meticulosa atenção a detalhes e estrutura, Gibbons mantém com sucesso a narrativa da série ao mesmo tempo em que inova a mídia de uma maneira altamente intrincada e metódica.”
:: CAOS, MICROCOSMOS E METALINGUAGEM EM WATCHMEN
No final da introdução mencionei, referente à descoberta que Edward Blake faz do monstruoso plano de Adrian Veidt, o conceito de “efeito borboleta”; também chamado de “dependência sensível das condições iniciais”, trata-se de uma propriedade essencial da Teoria do Caos. Em pouquíssimas palavras, implica que qualquer alteração nas condições iniciais de um sistema dinâmico, por menor que seja, altera-o por completo. Por sistema dinâmico entenda-se um sistema intrincado, não linear e intermitente (aperiódico), ou seja: o tráfego de uma cidade, a bolsa de valores, sistemas biológicos como nós, seres humanos, etc.
Desse modo, uma borboleta batendo asas na China pode de fato alterar o clima em Nova York, assim como um tropeção na rua pode causar um atraso de um segundo que impedirá um indivíduo de apanhar um avião e evitará sua morte no subsequente acidente. Em “Watchmen”, esse evento inicial é a descoberta acidental que Blake faz do plano de Veidt, evento aparentemente insignificante que altera todos os eventos futuros, lentamente assumindo a forma de uma onipotente bola de neve: obriga Veidt a assassinar Blake, o que por sua vez provoca a investigação de Rorschach, investigação esta que enfim revela o plano de Veidt – embora aparentemente em vão, já que esse plano se realiza. No entanto, há uma variável oculta: o diário de Rorschach, que no final, ao que parece, acabará publicado e talvez possa novamente alterar o rumo da história… ou não… Esta incapacidade de previsão constitui-se em outra propriedade importantíssima, se não definidora, da Teoria do Caos, que nada mais é do que uma tentativa de previsão das condições gerais futuras de um sistema dinâmico, já que as condições específicas futuras desse tipo de sistema são imprevisíveis, geradas por causas por demais complexas, instáveis e aperiódicas (isto é, que jamais se repetem).
Embora o efeito borboleta, ou princípio da dependência sensível das condições iniciais da Teoria do Caos, sirva como alicerce para a tecitura da (macro)trama de Watchmen, os detalhes finos dessa tecitura – as subtramas e principalmente as histórias paralelas – são, ao menos poderiam ser, baseados num subproduto da Teoria do Caos, a Geometria Fractal. Não cabe entrar em detalhes aqui a respeito dessas belas e complexas estruturas geométricas fracionárias, cabe apenas lhes ressaltar uma característica: a de que qualquer parte de um fractal, por minúscula que seja, tem, grosso modo, a forma, isto é, o padrão, da figura como um todo – princípio empregado na construção das histórias paralelas, ou “histórias dentro de histórias”, ou ainda “microcosmos”, de Watchmen, onde cada microhistória reflete de algum modo a trama principal.
A história “Marooned”, aquela do pirata ilhado, certamente é o maior exemplo de trama paralela-reflexiva; note-se que se trata de metalinguagem: Moore emprega uma história em quadrinhos como reflexão de outra história em quadrinhos (deve-se notar também que a própria macrotrama de Watchmen emprega a metalinguagem, isto é, através de si mesma, uma HQ, reflete sobre os quadrinhos; veja como exemplo a análise do capítulo IV, adiante).
Como Moore admite, “Marooned” foi crescendo conforme foi sendo escrita; penso que funciona bastante esquematicamente como alegoria da história principal. A princípio o marinheiro ilhado é o único conhecedor da tragédia que está para se abater sobre sua cidade natal, Davidstown — o navio pirata BlackFreighter se encaminha, inexorável, rumo à cidadezinha. Na história principal, o marinheiro seria Veidt, que se encontra na mesma situação, ou seja, é o único ciente da aproximação do fim do mundo na iminência de um holocausto nuclear (Blake também sabia, mas já está morto no começo da história); desnecessário dizer, o mundo seria Davidstown e a guerra nuclear o BlackFreighter.
É claro que, frente a uma análise mais atenta, este e outros paralelos entre a macro e a micro trama (entre “Watchmen” e “Marooned”) não funcionam totalmente; ficam diversas inconsistências. Isto se deve ao já mencionado fato de “Marooned” não ter sido planejada com meticulosidade; Moore foi descobrindo as possibilidades de espelhamento conforme ia desenvolvendo a história. O fato de “Marooned” refletir, em menor ou maior grau, as histórias de outros personagens além de Veidt, sugere outras interpretações; por exemplo, na página 13 do capítulo XI, temos no último painel o marinheiro nadando na direção do BlackFreighter, enquanto no primeiro painel da página seguinte temos, como paralelo, Dreiberg e Rorschach rumando para Karnak, o refúgio de Veidt na Antártica, o que pode nos levar a crer que o marinheiro nadando na direção do navio de pesadelo representa Rorschach e Dreiberg em seu caminho rumo ao refúgio de Veidt, onde defrontarão o insano e terrível plano deste personagem.
Toda essa variedade de paralelos pode ainda ser tomada como representação do tema da simetria, recorrente na história, tema este que por sua vez pode ser apenas parte de um tema mais abrangente, já mencionado, o da natureza cíclica da História, ou quem sabe do próprio Universo, que seria eterno, renovando-se em ciclos de nascimento, desenvolvimento e morte, assim como tudo nele contido: a vida e a História, por exemplo. Existe ainda outro tema possível, o da unidade de todas as coisas (tudo é ou está em Deus, simultaneamente, etc.), ou seja, de que não há diferenças essenciais entre as coisas; desse modo, os personagens se confundem, suas histórias se confundem (estou sendo altamente especulativo neste ponto)…
De todos os paralelos possíveis, o do marinheiro como “alter-ego” de Veidt mostra-se o mais coerente. Por exemplo: como meio de alcançar sua cidade natal e salvar sua família, vemos o marinheiro construindo um barco sobre os corpos inflados de gás de seus companheiros, para que flutue; na história principal, Veidt não hesita em salvar o mundo ao custo de milhões de corpos. Ainda adiante, surge um obstáculo imprevisto para o marinheiro, que é atacado por um tubarão: na história principal, Veidt tem que lidar igualmente com um obstáculo imprevisto: Rorschach. O paralelo entre este personagem e o tubarão só fica evidente na página 22 do capítulo V, onde um dos investigadores confunde o nome Rorschach com as palavras “raw shark”, que significam “tubarão cru”; ou seja: Rorschach seria o tubarão de Adrian Veidt.
Mas a quantidade fenomenal de microcosmos em Watchmen apenas começa em “Marooned”. Há ainda os segmentos literários servindo de epílogo a cada um dos 12 capítulos. Além de serem uma novidade – suplementos literários dos tipos mais diversos invadindo uma mídia concentrada em imagens – servem principalmente para mergulhar o leitor no mundo aqui retratado, pois o que este tem em mãos não se trata apenas de informações de fundo a respeito desse novo mundo, mas, na realidade, de “publicações reais” desse universo: o livro de Hollis Mason, Under de Hood, os documentos criminais e psiquiátricos de Rorschach, folhas do jornal New Frontiersman… nas palavras de Samuel Asher Effron, “Nunca antes de Watchmen os quadrinhos de super-heróis integraram de tal maneira outras mídias em suas páginas. Esta característica única é um testamento dos fervorosos esforços dos autores rumo à criação de algo novo tanto na mídia quanto no gênero. Tal meta atinge-se também pela exclusão intencional tanto de propaganda quanto de seções de cartas por toda a série. Embora Watchmen não seja a primeira HQ a experimentar com essas medidas restritivas, certamente é uma das pioneiras.”
Ainda a respeito dos segmentos literários, gostaria de comentar a capa do artigo intitulado Dr. Manhattan: Super-Powers and the Superpowers (literalmente, excluindo-se o trocadilho, Dr. Manhattan: Super-Poderes e as Superpotências; ignoro como foi traduzido na versão nacional da série), que encerra o capítulo IV. Aqui encontramos um pastiche de uma ilustração de Leonardo Da Vinci (do tratado De Architectura, de Pólio Vitrúvio); na ilustração original, temos o homem como a medida de todas as coisas; no pastiche, temos o Dr. Manhattan, o super-homem, como medida de todas as coisas: Moore parece querer implicar que no mundo de Watchmen o super-homem tornou-se a medida de tudo e o centro do Universo, idéia recorrente na história (o surgimento do Dr. Manhattan transformou para sempre o mundo de Watchmen). Ironicamente, a história, à maneira de uma imagem invertida e simétrica, conclui de forma inversa: se se pensava que o Dr. Manhattan era a solução para o holocausto nuclear, vemos que na verdade um “herói” humano (Veidt) é a única esperança.
As subtramas de Watchmen são numerosas; quanto a este assunto basta indicar, no capítulo VIII, as páginas de 10 a 15; essas páginas de mesmo layout contém o que eu considero a mais brilhante apresentação de tramas múltiplas já concebida (ao lado de todo o Livro Quatro de “O Cavaleiro das Trevas”, esta série em si mesma um colossal exercício de narrativa alicerçado quase que exclusivamente na troca habilidosa e incessante de foco narrativo entre tramas múltiplas); aqui observa-se nos seis painéis superiores o desenrolar de uma trama diferente a cada página, enquanto no último painel de cada página, maior do que os anteriores, observa-se o desenrolar da tentativa de resgate de Rorschach efetuada por Dreiberg e Laurie.
Para finalizar esta seção, retornemos ao já arranhado assunto da metalinguagem presente em Watchmen. Tomemos o capítulo IV como foco, embora toda a série apresente comentários a respeito da mídia. Desse capítulo, intitulado Watchmaker (novamente ignoro como traduziram; a tradução literal é “relojoeiro”), pode-se dizer o mais “metafísico” ou filosófico de todos, contendo reflexões profundas e poéticas sobre a natureza do tempo, do destino (na figura do determinismo) e da origem do universo. Aqui mais uma vez recorro à competente análise de Samuel Asher Effron:
“O capítulo V [acima analisado] não é o único em que Gibbons e Moore experimentam com o vocabulário dos quadrinhos. Praticamente cada segmento da narrativa de Watchmen é apresentado de uma forma diferente, condição que reforça a profundidade da obra. No capítulo IV, “Watchmaker”, as noções aceitas de apresentação da narrativa são mais uma vez desafiadas por inovações de técnicas genéricas. Como no capítulo V, o título desta seção também carrega grande significado em relação ao tema. “Watchmaker” é extraído de uma citação de Albert Einstein, na qual o cientista lamenta as grandes mudanças que suas descobertas trouxeram à existência humana. À luz da controvérsia quanto à energia atômica, Einstein expressa o desejo de ter seguido a carreira de relojoeiro. O uso desta citação tem duas funções. A primeira é servir de paralelo às experiências de Osterman e Einstein, apesar do impacto das descobertas deste no mundo real ter certamente sido superado pelas mudanças trazidas ao mundo de Watchmen pela existência do Dr. Manhattan. Para reforçar o paralelo entre os dois cientistas, ficamos conhecendo a intenção que Jon teve, na infância, de seguir seu pai na carreira de relojoeiro. O crescente alienamento emocional de Jon no decorrer da história indica que ele também poderia ter tido melhor sorte nesta agora obsoleta profissão. Em um nível mais abstrato, as referências a Einstein são usadas para introduzir suas teorias sobre o tempo como um subtexto. Em um flashback na página três, o pai de Jon deliberadamente evoca a teoria da Relatividade de Einstein: o tempo não é absoluto mas relativo à posição do observador. A teoria aplica-se não somente à nossa percepção do tempo mas também à percepção e representação do tempo nas histórias em quadrinhos, conceitos estes examinados no capítulo IV por intermédio do monólogo de Jon e das imagens que o acompanham.
O segundo painel da primeira página estabelece o padrão seguido por todo o capítulo. Aqui Jon, falando no tempo presente, se refere a uma ação futura. “Em 12 segundos, eu deixo cair a fotografia…” Sua fala é uma ação do painel anterior, enquanto a imagem da fotografia cadente está contida nessa fala. É a ação descrita por sua fala que é representada no segundo painel. Neste ponto o leitor começa a entender a natureza complexa da existência de Jon e do próprio tempo. Como ele diz a Laurie no capítulo IX, “O tempo é simultâneo, uma jóia de estrutura complexa que os humanos insistem em ver uma aresta por vez, quando toda a estrutura é visível em cada faceta.” [Nota minha: uma alusão à já citada geometria fractal?] Esta fala literalmente define o modo como o tempo se apresenta nos quadrinhos. Qualquer painel no qual se fixam os olhos representa o presente da mesma forma como os painéis precedentes representam o passado e os posteriores o futuro. O modo pelo qual o tempo funciona nos quadrinhos é exclusivo desta mídia. Somente na arte em quadrinhos o presente, o passado e o futuro são tão facilmente observados simultaneamente. No cinema, diferentes momentos do tempo são projetados no mesmo espaço, tornando o exame dos momentos separados como unidades individuais uma impossibilidade. Na literatura, a natureza não gráfica da narrativa impede o leitor de discernir entre momentos temporais. A arte em quadrinhos, com seus layouts de página inteira com painéis individuais e legendas, permite ao leitor examinar à vontade as ações dos personagens em qualquer instante específico dentro da narrativa.
(…)
A estrutura única deste capítulo é usada principalmente para comentar a natureza do tempo nos quadrinhos, mas também incorpora a filosofia do determinismo. Jon percebe o tempo como uma seqüência de eventos pré-arranjada cronologicamente por alguma força desconhecida. Jon difere do resto da humanidade por sua consciência da estrutura do tempo; mas a despeito de sua onisciência, suas ações são tão fixadas como a de qualquer um. Em uma discussão com Laurie na qual ela acusa Jon de ser um “fantoche seguindo um roteiro”, ele responde, “Somos todos fantoches… Sou somente um fantoche capaz de enxergar as cordas.” Aqui, e por todo o capítulo, Gibbons e Moore se engajam em uma discussão altamente sofisticada sobre a existência humana que inclui conceitos de tempo, moralidade e divindade. Ao apresentar tais diálogos na forma previamente analisada, eles não somente elevam o nível intelectual de sua história como também empregam uma técnica dos quadrinhos que tem sido historicamente negligenciada. Eles criativamente inovam a apresentação formal do tempo nos quadrinhos tanto por meio da metáfora da visão de mundo de Jon como pelo exame da natureza da própria apresentação.”
:: TÉCNICAS DE NARRATIVA
“Não há nada que os quadrinhos não possam fazer. Não há nada que tenha sido tentado em qualquer outro meio artístico que os quadrinhos não possam, eventualmente, igualar ou melhorar… Aqui o leitor tem a possibilidade de parar e se deter em um painel de forma a extrair-lhe todo o significado, o que é impossível quando se tem passando diante dos olhos 24 quadros por segundo no cinema.”
A citação acima resume com energia em quão alta estima Moore tem os quadrinhos como forma de arte. Ele não mede palavras ao dizer que de fato considera os quadrinhos a maior forma de arte. Em termos. De qualquer modo, a mim parece que Moore concebeu “Watchmen” exatamente para provar esse ponto.
Além de todos os aspectos observados até aqui, há muitas outras inovações que este senhor do caos incorporou à sua obra-prima. Já mencionei como a literatura invade esta HQ na forma dos suplementos literários; mas este é apenas o sinal mais evidente dos aspectos literários que permeiam a série. Analisarei alguns deles aqui, superficialmente e a título de exemplo; de forma alguma pretendo uma análise estética ou semiótica completa (um especialista em semiótica teria em “Watchmen” um prato cheio, levando-se em consideração a miscelânea de mídias e diferentes níveis de comunicação presentes), da mesma forma que descarto o assunto da intertextualidade nesta obra (para tanto seria necessária uma análise biografista que demandaria uma quantidade enorme de pesquisa, além de improváveis entrevistas com o autor – graças a Deus – ainda vivo). Muito já se falou em como Moore foi arrojado, talvez pioneiro, no emprego de uma prosa dinâmica e adulta, construída sobre figuras de retórica, especialmente metassememas, quase que exclusivamente metáforas e comparações, que realmente perfazem o grosso de seu fraseado não convencional, marcando seu estilo; por exemplo, a já mencionada definição que Jon faz do tempo, como sendo “simultâneo, uma jóia de estrutura complexa que os humanos insistem em ver uma aresta por vez, quando toda a estrutura é visível em cada faceta”, ou, ainda de Jon, uma metáfora muito simples, contudo a minha preferida, na qual ele diz que “tudo o que nós vemos das estrelas são suas antigas fotografias”, referindo-se ao tanto de tempo que suas luzes demoram para nos alcançar; também o artigo de Daniel Dreiberg (Blood from the shoulder of Pallas, suplemento literário do capítulo VII), de onde temos, quanto ao olhar de uma coruja, “…sorvendo da escuridão por meio de suas pupilas dilatadas e sedentas” ou “…seu grito [da coruja] como o grito de um velho ensandecido” ou ainda “As penas de corujas são macias e baixas, não produzem qualquer som conforme descendem através das negras alturas do céu. O silêncio anterior ao razante de uma coruja é o silêncio de uma Bomba-V, e você nunca escuta aquela que o atinge.” Neste último extrato e em outra referência posterior, na qual Dreiberg qualifica como de uma “intensidade apocalíptica” sua experiência com a coruja, vê-se claro – num lampejo de análise semiótica – mais um paralelo com o iminente apocalipse nuclear da história principal – também uma possibilidade do tempo presente e, mais especificamente, dos anos formativos do autor (real, Alan Moore, mas também e coincidentemente do narrador, Dreiberg; pois, como quer Carlos Reis [em Técnicas de Análise Textual, Livraria Almedina, Coimbra, 1981], não se deve confundir narrador com autor, o que ocorre com frequência, embora pareça tratar-se de engano elementar).
Outro recurso literário empregado à exaustão e com efeito extraordinário em toda a série é o flashback; a maestria com que Moore o utiliza é especialmente evidente, creio, nos capítulos II, IV, VI e IX.As mudanças de foco narrativo em Watchmen são dignas de nota pela sua variedade; nesta série, e na maior parte dos quadrinhos, faz papel de narrador onisciente (foco narrativo em terceira pessoa, ou ainda heterodiegese) as próprias imagens, normalmente responsáveis por toda a descrição de cena e personagens e por boa porção da narrativa; o narrador personagem (foco narrativo em segunda pessoa, ou ainda homodiegese) está mais presente na apresentação do diário de Rorschach, enquanto a narrativa em primeira pessoa (também autodiegese) encontra-se nos próprios diálogos (por exemplo, quando Adrian Veidt conta sua história no capítulo XI) e, mais notavelmente, na narrativa do marinheiro na história paralela intitulada “Marooned”. Já o intercâmbio de qualquer um desses tipos de discurso com os diversos tipos de apresentações visuais nos remete às técnicas cinematográficas.
Logo no começo do capítulo I temos um exemplo dessa relação que Moore, mais uma vez, lida com virtuosidade insuperável; estou falando da conversa entre os dois investigadores, que especulam, pelos indícios oferecidos na cena do crime, como teria sido o assassinato de Blake, enquanto em painéis que intercalam suas imagens com as do assassinato, acontece o encaixe, às vezes exato, às vezes não, de suas especulações com os fatos reais. Temos aqui um exemplo da flexibilidade narrativa inerente aos quadrinhos, pois de difícil emprego (se não impossível) num meio como o da prosa literária.
Moore também vai mais longe do que qualquer outro autor de quadrinhos no emprego de técnicas cinematográficas; que o tratamento de imagem no cinema tenha influência generalizada nas HQs não é novidade; ignoro apenas se Moore foi pioneiro no emprego de algumas dessas técnicas em especial, mas é fácil identificar o uso constante de ao menos três; em primeiro lugar a utilização eficiente e sistemática, já estudada neste artigo, de aproximações e distanciamentos de câmera (zoom-in e zoom-out); em segundo, o emprego, em painéis sucessivos, da mesma tomada, quase sempre para acentuar a impressão de movimento de um personagem (por exemplo, na página 12 do primeiro capítulo: os três painéis centrais apresentam a mesma “tomada” da máscara de Rorschach em primeiro plano e do rosto de Dreiberg em segundo; sucessivamente, em cada painel, observa-se a mudança dos desenhos na máscara, enquanto o rosto de Dreiberg passa de perfil no primeiro painel para meio perfil no segundo, até uma visão frontal completa no terceiro); em terceiro, o uso de cenas sem diálogo e caixas de texto, verdadeiras cenas mudas. (Esta técnica também pode ser oriunda dos mangás. Na verdade, a utilização habilidosa e maciça de técnicas cinematográficas no mangá é muito anterior ao mesmo procedimento nos quadrinhos ocidentais; pode ser que Moore tenha herdado essas técnicas do mangá, e não diretamente do cinema)
:: DESCONSTRUÇÃO FINAL: UMA HISTÓRIA SEM VILÕES
Como uma narrativa machadiana, “Watchmen” é ambígua ao cúmulo; para começar, a última cena da história – Seymour recuperando o diário de Rorschach do “crank file”, para publicação – põe em xeque a conclusão de que Adrian Veidt realmente salvou o mundo; mas ainda pode ser que sim. Mais interessante, na minha opinião, é notar a ambigüidade moral da história – esta é uma história sem vilões. Note-se que isto não eqüivale ao conceito batido de que a história não é preto no branco, e sim pintada em “tons de cinza”; é um pouco mais complexo do que isso; eqüivale a um intrincado jogo conceitual e moral, que ao final da história, como indica o diálogo entre Veidt e o Dr. Manhattan, não é tão facilmente solucionável, afinal o próprio Veidt, o “homem mais esperto do mundo”, tem dúvida quanto a ter tomado a decisão certa. Pode parecer, então, que cada leitor deve tirar as suas próprias conclusões. Eu não penso assim; a mim parece que a opinião de Moore é a de que simplesmente não há o certo e o errado, o bem e o mal. Penso que a posição neutra de Jon – ele diz: “…eu entendo [as ações de Veidt], sem perdoar ou condenar” – é realmente a posição “oficial” do autor. Veidt, assim, não seria um vilão; ele apenas acredita (quer acreditar) que “os fins justificam os meios”, que um sacrifício “pequeno” vale um bem maior. A opção às suas ações – uma guerra nuclear em larga escala – corrobora esse ponto de vista; outras passagens da história corroboram a opinião neutra de Jon, especialmente a visão de mundo de Rorschach, segundo quem a “Existência é aleatória. Não tem outro padrão exceto aquele que nós imaginamos após observá-la por muito tempo. Nenhum significado salvo o que nós escolhemos impor”. Ou seja: se há um ponto de vista absoluto, ele é neutro; como o tempo (estudado no capítulo IV) a moral é relativa, cada um tem a sua.
“Watchmen” é uma história sem vilões.
:: MARCO DE UMA NOVA ERA DENTRO E FORA DOS QUADRINHOS
Ao lado de “O Cavaleiro das Trevas” (reforce-se bem essa união, para não se cometer injustiça), “Watchmen” elevou os quadrinhos ao status de forma de arte independente. Sozinha, definiu os limites dessa arte, como “Ulisses” na literatura. Para começar, “Watchmen” realmente emprestou coerência ao conceito até então mal interpretado de graphic novel; antes somente um truque publicitário para se vender num novo formato as mesmas antigas histórias, com “Watchmen” esse formato finalmente fez jus ao nome “romance gráfico”, pois então técnicas e a própria qualidade literária dos romances tornam-se parte da mídia.
A virtuosidade com que “Watchmen” foi concebida foi tamanha que sua influência ultrapassou os limites das HQs; não apenas essa série, mas também o restante da obra de Moore nos quadrinhos, passaram a influenciar, numa reviravolta irônica mas indicativa de sua qualidade e originalidade extraordinárias, as próprias mídias das quais sofreram influência em primeiro lugar. Não é surpresa constatar que atualmente há um grande número de romancistas, roteiristas, escritores de todos os tipos e diretores de cinema influenciados pela obra de Moore. Talvez de forma imprevista, talvez propositadamente, Moore inaugurou uma nova poética, talvez uma nova escola criativa (para não usar um termo restritivo como “escola literária” ou “escola de quadrinhos”), um novo modo de pensar e de criar baseado em conceitos como o “lateral thinking” de Ozymandias, enfim, na atuação imprevista e fragmentária dos sistemas dinâmicos segundo a Teoria do Caos. Tal é – este novo modo de pensar – a magia de Moore e a fonte de suas idéias inusitadas e inovadoras. Eu diria que o mago do caos britânico fundou o que eu denominaria de “Poética do Caos”: sua maneira de conceber o mundo e, consequêntemente, suas narrativas. Essa nova escola criativa poder-se-ia chamar também de “Neobarroco”; constituir-se-ia do contraste, da contradição e da dúvida (veja-se a já discutida ambigüidade de Watchmen), literariamente do acúmulo, por vezes maciço, de metáforas, antíteses, paradoxos, oxímoros, sinestesias… tudo alicerçado na Teoria do Caos e em conceitos como o Princípio da Incerteza da Física Quântica. Em suas várias formas e temáticas possíveis – do realismo (exploração/representação) psicológico de James Joyce e Willian Burroughs (com suas origens em De Quincey – Confissões de um comedor de ópio – e Sully Prudhomme – Diário Íntimo), passando pelo virtuosismo comercial do próprio Moore e chegando ao fusionismo explícito de Grant Morrison (Asilo Arkham talvez tenha sido o primeiro romance gráfico a lidar objetivamente com o tema da unidade de tudo) – o neobarroco caótico, como também pode ser chamado, prima pelo desejo do espanto do leitor, que almeja alcançar através de flagrante virtuosismo, especialmente no que diz respeito à elaboração complexa e engenhosa de labirintos conceptuais, estilísticos e estruturais. Lembremos ainda o dualismo (parte do conceito de simetria impregnando “Watchmen”), uma das características estético-estilísticas mais marcantes do Barroco literário, então também definidora do Neobarroco.
Se esta minha extrapolação quanto a Alan Moore como fundador (ao menos como um dos pioneiros) de uma nova escola criativa tem ou não fundamento, o presente, com sua legião de criadores seguindo os passos do “Mighty Moore”, parece indicar que sim. A dificuldade de seguir os passos de tal gigante pode significar um futuro não promissor para essa escola criativa, contudo; mas penso que há criadores corajosos o suficiente para seguir tal caminho, e, é claro, humildes o suficiente para saber que não se pode igualar ou superar a obra desse todo-poderoso Urano dos tempos modernos. Seja como for, podemos apenas especular, já que a História da humanidade – e, naturalmente, a história dos quadrinhos e de todas as demais formas de arte – são sistemas caóticos cujo futuro não se pode prever em detalhes; eu apostaria, no entanto, que o legado de Moore estará lá, e Watchmen como sua obra-prima.
|